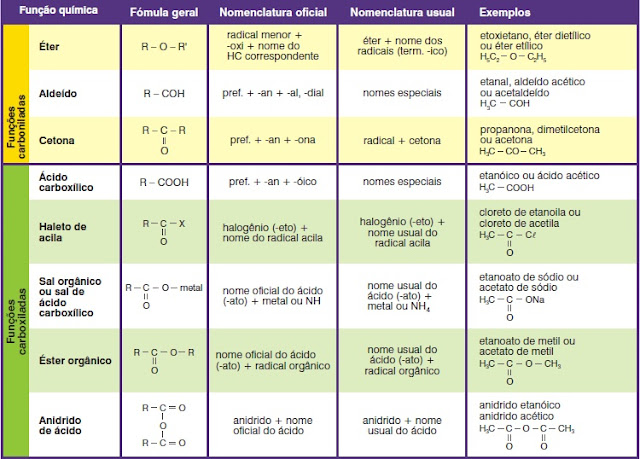1 – Definição:
Óxidos são composto binário de oxigênio com outro elemento menos eletronegativo.
Exemplos: K2O, CaO, Al2O3, CO2, SO3...
2 – Fórmula Geral dos Óxidos:
Ecarga+ O2- à E2Ocarga
Como devo montar a fórmulas?!
Observe que:
· Trocam-se as cargas, mas, sem os sinais (todos os exemplos);
· Não se escreve o número 1 na atomicidade (1º. exemplo);
· E, quando os números forem múltiplos, simplifique-os (2º. e 4º. exemplos).
Como vou saber as cargas?!
Lembre-se:
· 1A (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) e a prata (Ag) têm carga 1+;
· 2A (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) e o zinco (Zn) têm carga 2+;
· 3ª (Al e Bi) têm carga 3+.
Metais
com duas cargas:
· Cobre (Cu): 1+ = oso e 2+ = ico
· Ouro (Au): 1+ = oso e 3+ = ico
· Ferro, níquel e cobalto (Fe, Ni e Co): 2+ = oso e 3+ = ico
· Chumbo, Estanho e Platina (Pb, Sn e Pt): 2+ = oso e 4+ = ico
Exemplos: monte a fórmula dos óxidos.
1º.) Li1+ O2- = Li2O1 = Li2O
2º.) Ca2+ O2- = Ca2O2 = CaO
3º.) Al3+ O2- = Al2O3
4º.) Fe2+ O2- = Fe2O2 = FeO
5º.) Fe3+ O2- = Fe2O3
3 – Nomenclatura dos Óxidos:
3.1 – Nomenclatura Oficial:
3.2 – Nomenclatura Usual:
- Só indique a carga em algarismo romano ou use as terminações ico e oso (na nomenclatura usual) para elementos com duas cargas;
- Nos óxidos de ametais (carbono, C; enxofre, S; nitrogênio, N; cloro, Cl; fósoforo, P;...) usamos a nomenclatura de prefixos.
Exemplos: dê o nome aos óxidos
1º.) Na2O = óxido de sódio
2º.) CaO = óxido de cálcio (cal viva ou cal virgem)
3º.) BaO = óxido de bário
4º.) Al2O3 = óxido de alumínio
5º.) CuO = óxido de cobre II (óxido cúprico)
6º.) Cu2O = óxido de cobre I (óxido cuproso)
7º.) Fe2O3 = óxido de ferro III (óxido férrico)
8º.) FeO = óxido de ferro II (óxido ferroso)
9º.) CO2 = dióxido de carbono ou anidrido carbônico
10º.) SO2 = dióxido de enxofre ou anidrido sulfuroso.
11º.) SO3 = trióxido de (mono)enxofre ou anidrido sulfúrico.
12º.) Cl2O = monóxido de dicloro
13º.) Cl2O7 = heptóxido de dicloro
14º.) MnO3 = trióxido de (mono)manganês
15º.) Mn2O7 = heptóxido de dimanganês
4 – Classificação dos Óxidos:
4.1 – Óxidos Ácidos ou Anidridos
Definição:
São óxidos em que o elemento ligado ao oxigênio é um semi-metal ou metal com alto número de oxidação (nox > +4) ou qualquer não-metal. Resultam da desidratação dos ácidos e, por isso, são chamados anidridos de ácidos.
Exemplos:
CO2 = dióxido de carbono ou anidrido carbônico
SO2 = dióxido de enxofre ou anidrido sulfuroso.
SO3 = trióxido de (mono)enxofre ou anidrido sulfúrico.
Cl2O = monóxido de dicloro
Cl2O7 = heptóxido de dicloro
MnO3 = trióxido de (mono)manganês
Mn2O7 = heptóxido de dimanganês
4.2 – Óxidos Básicos
Definição:
São óxidos em que o elemento ligado ao oxigênio é um metal com baixo número de oxidação (+1,+2 e+3). Os óxidos de caráter mais básico são os óxidos de metais alcalinos e alcalino-terrosos.
Exemplos:
Na2O = óxido de sódio
CaO = óxido de cálcio (cal viva)
BaO = óxido de bário
CuO = óxido de cobre II (óxido cúprico)
Cu2O = óxido de cobre (óxido cúprioso)
FeO = óxido de ferro II (óxido ferroso)
4.3 – Óxidos Neutros ou Indiferentes
Definição
São óxidos que não apresentam características ácidas nem básicas. Não reagem com água, nem com ácidos, nem com bases.
São eles:
São eles:
CO monóxido de carbono
NO óxido de nitrogênio
N2O óxido de dinitrogênio
4.3 – Peróxidos:
São os óxidos formados por cátions das famílias dos metais alcalinos (1A) e metais alcalinos terrosos (2A) e pelo oxigênio com nox igual a -1.
Um exemplo é o peróxido de hidrogênio (H2O2).
Exemplos:
Na2O2 = peróxido de sódio
BaO2 = peróxido de bário